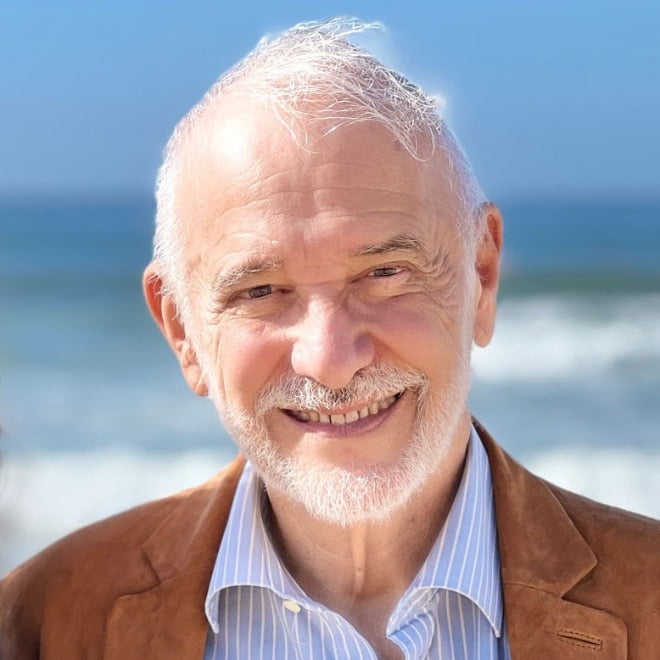Como é que surgiu este projeto artístico?
Sou bailarino há mais de 15 anos e faço kuduro desde que eu me lembro. “Musseque” é um projeto recente que surgiu de um desafio por parte da Piny [bailarina, performer e coreógrafa] que tem um projeto chamado OU.kupa e que chamou outras danças, que normalmente não pisam os palcos dos teatros ou espaços mais convencionais, para apresentar apresentar o nosso trabalho no Teatro do Bairro Alto… danças de rua, danças urbanas. Foi-me proposto este desafio e apresentei há dois anos a primeira versão de “Musseque”, no início do que agora vai ser completado aqui em O Espaço do Tempo.
Em palco, quatro bailarinos…
“Musseque” fala de quatro pessoas que emigraram de Angola para Portugal, mas não deixaram de trazer a sua cultura que é dança, que é o kuduro. É também um projeto que retrata a guerra civil em Angola. Foi nesse ambiente que o kuduro começou, no final dos anos 80, início dos 90. E é um espetáculo que também retrata um bocadinho a transição dessa guerra para nós e de Angola para Portugal. Somos quatro bailarinos de quatro gerações dentro do kuduro.
Qual o maior desafio?
Sentámo-nos, conversámos e tentámos perceber como seria possível apresentar a dança kuduro, afro house, nos ditos teatros. Como é que seria possível fazê-lo? E a partir daí foi discutir ideias, discutir processos e tentar encontrar a melhor maneira de apresentar o kuduro dentro desse espaço, de uma forma coerente, de uma forma em que toda a gente percebesse o que é realmente o kuduro e de que é feito, porque vinha de um sítio negativo, mas que se tornou positivo, pois era a nossa única “salvação” para podermos “estar felizes” enquanto a guerra civil existia.
O Fábio nasceu em 1988. Ainda experienciou esse tempo de guerra.
Quando eu nasci ainda existia guerra civil em Angola [terminou em 2002], ainda vivi muito dessa guerra… teve um impacto muito grande, tanto que nós não poderíamos sair à rua, nós não nos podíamos divertir sem ser em casa. Mas também, em casa, não existia energia ou água, não havia o básico, era muito complicado. Essa guerra impactou muito a minha vida, mas também o kuduro, no sentido em que o kuduro nos trazia alegria para podermos estar e continuar com as nossas vidas… se não fosse isso, para mim teria sido ainda mais complicado, mais insuportável. Já existiam outras danças, claro, como o kizomba ou o semba, danças mais antigas, são as ditas danças para os mais velhos.
Sendo assim o kuduro visto como dança e como música para os mais jovens?
Exatamente. O kuduro como música e como dança, porque nasceu como música… os cantores começaram logo a ter os bailarinos para criar os movimentos. Ou seja, foi em conjunto que tanto a música como a dança nasceram. E a música é muito, muito rápida, muito energética, por assim dizer. Na altura da minha juventude saímos das cidades para os bairros, onde surgiu a cultura do kuduro e nesta peça revisitamos alguns bairros, os mais importantes… o do Sambizanga e o do Marçal, mas há muitos mais. Este, por exemplo, o do Marçal é o meu bairro, foi onde eu cresci. O Sambizanga tem a ver com um cantor que infelizmente já faleceu, um cantor de kuduro que era visto como o maior dos maiores e que se chamava Nagrelha [Alexandre do Nascimento, 1986/2022], foi um dos impulsionadores do kuduro.
Em palco estará também uma bailarina…
… exatamente, somos três homens, eu, o Xenos Palma e o Elvis Carvalho e a Selma Myilene. Antigamente o kuduro era visto como uma dança só de homens. Só há muito pouco tempo é que tanto na música como na dança a apareceram mulheres e raparigas a dançar e a cantar em kuduro. Há uma força gigante dessa parte e que na nossa peça vai ser retratada não só pelo corpo que está em palco, mas também pela música e pela maneira como esse esse corpo vai dançar.
Porque é que não havia mulheres?
Era mal visto … até a palavra kuduro, como está aí com k, mas que no início começou com c. Então quando surgiu o nome era cuduro e não passava nas rádios, as televisões não aceitavam porque era mal visto…mudou-se então o nome e só aí dá para ver esse preconceito que existia.
Começou a dançar quando veio para Portugal?
Profissionalmente sim. Fiz dois anos na Escola Superior de Dança e a partir daí comecei por dar aulas, a fazer trabalhos dentro do pop, fui tirando um curso de locking [estilo de dança hip hop] e muitos trabalhos comerciais. Em 2015 participei no “Achas que Sabes Dançar?” [programa de talentos da SIC] e, a partir daí, a minha carreira descolou. Fiz também o “Portugal Tem Talento” (SIC] em 2017, depois muitos festivais de verão, sem deixar as aulas de kuduro. Em 2021 fui convidado pelo Marco da Silva Ferreira [coreógrafo] para integrar a peça “Carcaça”, ainda em cena. E é a partir desse momento que entro para o mundo dos teatros, se assim se pode dizer.