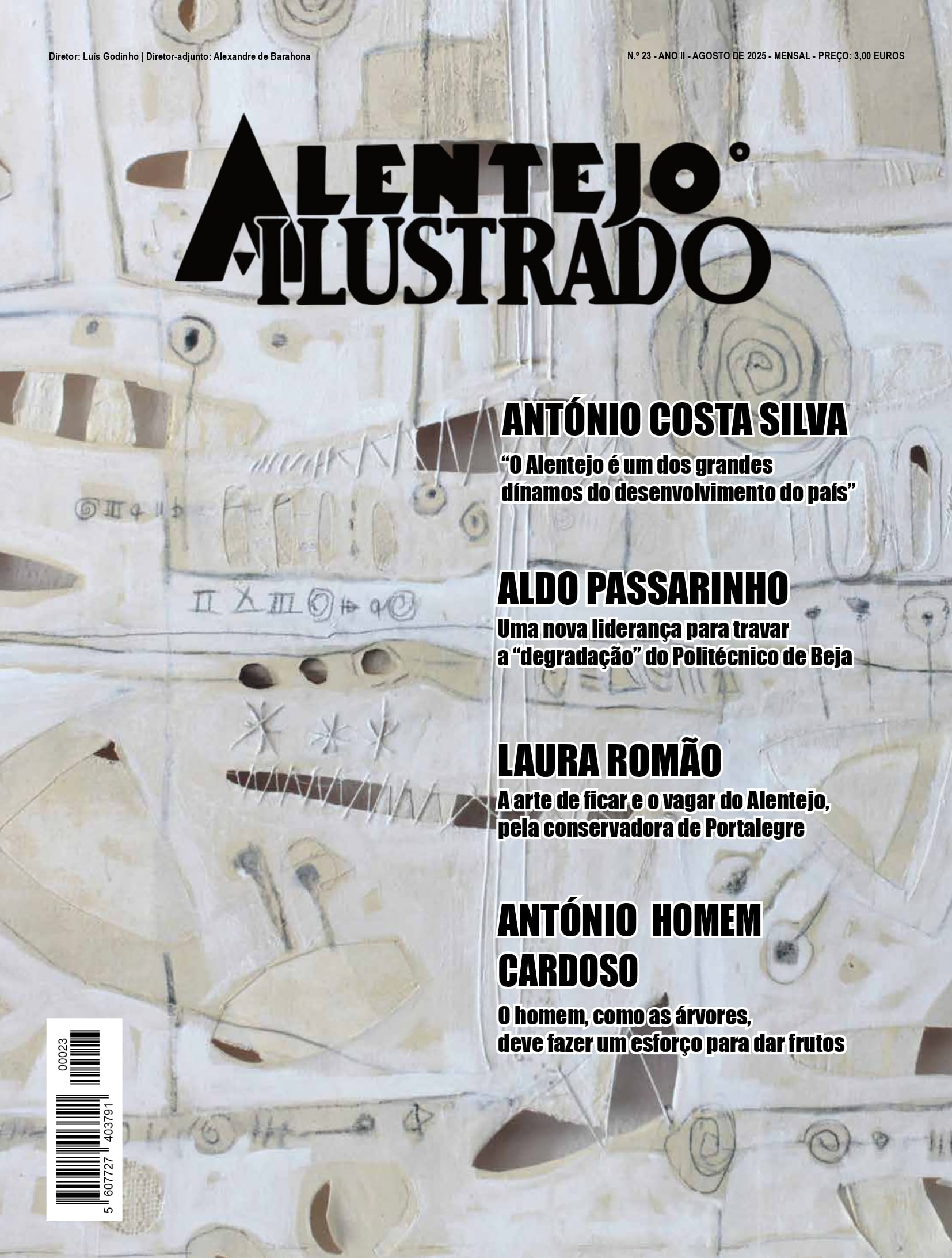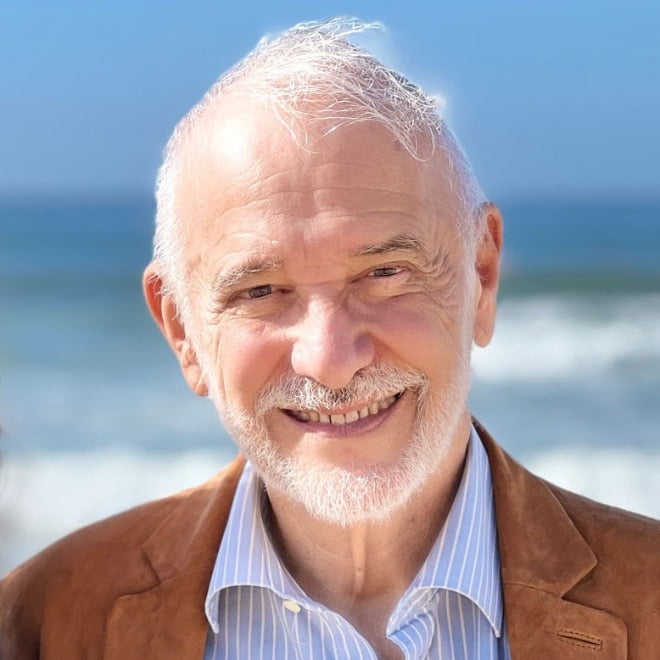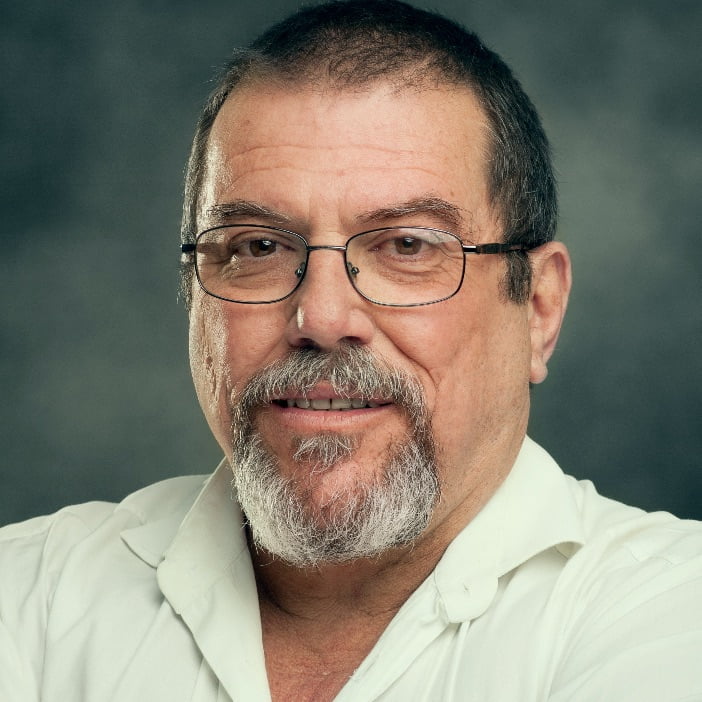A 10.ª edição da Évorawine veio confirmar que vinho continua a ser o genuíno “peso pesado” da agricultura alentejana, um exemplo de resiliência num contexto de forte concorrência. Nem sempre foi assim. Tempos houve em que o importante era a quantidade, não a qualidade. “Beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses”, dizia-se numa frase popularizada pela Junta Nacional do Vinho, organismo criado em 1937 pelo Estado Novo para regulamentar a produção e comercialização do vinho em Portugal.
De há 50 anos para cá, o Alentejo tornou-se uma das regiões vinícolas mais importantes de Portugal, com reconhecimento internacional. Do meu ângulo de visão, duas figuras foram fundamentais para este sucesso: o Eng.º Colaço do Rosário e o viticultor alemão Jorge Böhm. Corriam os primeiros anos da década de 80, quando chegou à Mitra (Universidade de Évora) por iniciativa de Böhm, uma grande câmara climatizada destinada à experimentação da vinificação a frio, em que Colaço do Rosário se empenhava.
O vinho é o fio de Ariadne que nos pode guiar numa viagem pelo tempo, do remoto passado histórico de Évora e do Alentejo até aos dias de hoje. Fenícios e cartagineses atravessaram Gibraltar nos seus esbeltos navios de velas quadradas, com remos e popas elevadas e decoradas com olhos. Plantaram a vinha ao longo da costa, sob o olhar curioso de pastores lusitanos que apenas conheciam a videira selvagem. Durante séculos, a vitivinicultura desenvolveu-se seguindo os ensinamentos de Magão, agrónomo cartaginês que codificou práticas ritualizadas de poda, enxertia e colheita segundo as fases da lua.
Após as guerras púnicas, os romanos herdaram e aperfeiçoa- ram esse saber. Desde o século I a.C., criaram-se adegas e sistemas de produção que moldariam a vitivinicultura futura: lagares de pedra, prensas de parafuso, fermentação em ânforas e doliae semienterradas para estabilização térmica, além da aromatização dos vinhos. Tudo isso era comum nas villae romanas, como a de Torre de Palma (Monforte), de São Cucufate (Vidigueira) e de Pisões (Beja). As villae eram peças-chave da romanização e a produção de vinho era uma das principais atividades.
Os visigodos (418-711 d.C.) herdaram a infraestrutura agrícola romana. Com a conversão dos visigodos ao cristianismo católico (Concílio de Toledo, 589 d.C.), o vinho passou a ter ainda mais importância litúrgica e passou a ser protegido por leis visigóticas, como o Liber judiciorum.
Durante o al-Andaluz, os vinhedos foram preservados e o vinho manteve-se vivo, sobretudo entre cristãos (moçárabes) e judeus. Com a reconquista cristã, passou por um processo de revitalização e valorização. A partir do século XII, tornou-se elemento central na vida quotidiana das comunidades cristãs.
Na minha casa, o vinho era servido num cajirão de cerâmica vidrada, saído da olaria do mestre Zé Baudoin, em cujo bojo se lia o provérbio: “O vinho é coisa santa/ Que nasce da cepa torta./ A uns, faz perder o tino/ A outros, errar a porta”.