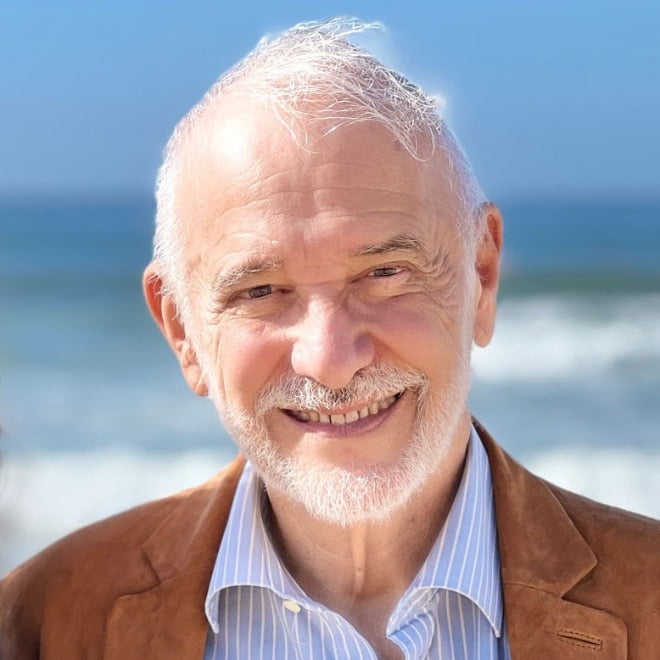Nasceu em Portalegre, no sopé da Serra de São Mamede, com o horizonte da planície a terminar no Cabo Sardão à beira do Atlântico. Rui Cardoso Martins, homem dos vários ofícios da palavra, tem 57 anos e sempre que pode volta ao interior, à terra Natal, território onde centra o seu mais recente livro “As Melhoras da Morte”, um prolongamento do primeiro romance que escreveu “E Se Eu Gostasse Muito de Morrer”, publicado em 2006.
O drama do suicídio e a ligeireza alentejana de analisar o ambiente, num território onde a ternura e a violência coexistem em doses parecidas, é o tom literário para entendermos um pouco melhor o mistério deste nosso ADN alentejano.
Começou como jornalista e atualmente é escritor, cronista, argumentista e dramaturgo, ofícios que usam a palavra e que se relacionam entre si. De onde vem a inspiração?
Acredito numa espécie de corpo principal, que é a própria linguagem como expressão e como tentativa de compreensão do mundo. A linguagem é essencial, até nas ciências. Na verdade, vou buscar a inspiração, se é que ela de facto existe, à realidade básica, à forma como o mundo se me apresenta. Pode, por exemplo, surgir através de uma notícia passível de se transformar numa crónica literária. Creio que é importante dizer que utilizo a palavra literária sempre no sentido de que é algo que nos acrescenta, que nos faz crescer, algo que permite começar num sítio e acabar noutro. Já houve casos reais que resultaram numa crónica e que se transformaram em outra coisa ficcional, mais forte, como por exemplo pequenos apontamentos da minha vida na infância que ganharam sentido para uma ficção, assim como para o argumento de um filme que fale numa personagem de um latifundiário ou de um camponês. Tudo isto é um feixe de ligações que tento misturar da melhor forma.
Como foi a sua infância em Portalegre, no nordeste alentejano?
Aquilo ali é um bocadinho, como diz uma personagem no livro “As Melhoras da Morte”, um enclave. Mas é puro Alentejo e toda esta região tem as suas particularidades. A começar pela maneira como as pessoas se relacionam com a comida, com a bebida, com a amizade, com a limpeza das casas… Há uma diferença substancial em relação, por exemplo, à Beira Baixa, que também conheço relativamente bem. Eu vivi naquele sítio, encravado na serra de São Mamede, um lugar magnífico, diria até, idílico, uma mistura de Portugal inteiro. Tem castanheiros, carvalhos, vinhas em altitude, tem uma barragem, mas logo a seguir, começa a planície que se estende até ao cabo Sardão, na Costa Vicentina. E é aí que eu tenho o meu poiso quando volto, sempre que posso. Com toda a violência e toda a ternura que o Alentejo sempre tem.
E a sua infância?
A minha infância teve coisas duras. A começar pela quantidade de alcunhas que tinha, por ser um miúdo mais atinado, não entrava em certos jogos de violência. Mas aprendi a aguentar. Crescer no Alentejo é uma espécie de recruta que faz de nós alentejanos. Depois fui estudar para Lisboa porque queria ser jornalista e aí comecei a ter uma experiência do mundo diferente. Tive muito contacto com tribunais e com situações em que pessoas passavam por grandes sofrimentos, também andei pelo mundo em reportagem por diversos sítios, alguns deles até perigosos. Só que um dia, quando chegou a altura de escrever uma ficção, voltei a casa… àquilo que me tinha formado, ao mistério que é: porque é que há tanto suicídio aqui? E é a essa pergunta que anseio responder.
Publicou agora “As Melhoras da Morte” que é uma continuação do primeiro romance “E Se Eu Gostasse muito de Morrer”, onde o Cruzeta, personagem principal e seu alter-ego, continua o seu caminho. O que o fez vol- tar a este lugar?
Foi uma busca que me chegou sem eu a procurar. Quando acabei o primeiro livro e, depois disso, escrevi mais três que não têm ligação entre si, descobri que não sabia o que tinha acontecido a esse meu alter-ego, o Cruzeta, porque o primeiro livro acaba de uma forma bastante dramática. Afinal, o Cruzeta continuava vivo e tinha continuado o seu percurso fora de Portalegre, mas acompanhando a cidade. E volta à cidade para o funeral de um amigo e para entrar mais a fundo no mistério alentejano, sempre com o tom que tinha encontrado no primeiro livro que é uma falsa ligeireza, isto é, falar das coisas com uma espécie de distância irónica, fazer de conta que não é tão grave como é. É isso que o Cruzeta faz. A prova é que já tive leitores a dizerem-me que riram e choraram ao lerem estes romances e fico satisfeito com isso porque é sinal de que os meus livros mexem com as emoções das pessoas. A literatura e a arte servem para nos causarem emoções. É qualquer coisa que nos atinge o coração, a cabeça, o estômago e que faz com que nos relacionemos com aquilo que estamos a ler.
Esta falsa ligeireza alentejana, que identifica, deve-se a quê?
Acho que é uma questão de inteligência e de defesa, ao mesmo tempo contra a dureza do mundo e da própria história que nos caracteriza. Os alentejanos são tratados como lentos, estúpidos, com um sotaque que é gozado… e vemos isso nas anedotas. Mas, ao mesmo tempo, há ali uma sabedoria qualquer e por isso é que os alentejanos também sabem contar belas piadas. Eu espero acrescentar alguma sobre nós mesmos. Depois aconteceu o inverso. Ficámos chiques, ter um monte no Alentejo deixou de ser um símbolo de ir buscar vinho à terra e voltar a uma espécie de nada, como dizia Fernando Pessoa, que uma vez se desgraçou em Portalegre. Foi lá comprar uma tipografia com o dinheiro que tinha recebido de uma herança e depois arruinou-se para o resto da vida.
O que lhe diz esse caso?
Acho este exemplo fantástico porque é um homem que vai a Portalegre, está ali três ou quatro dias, a embalar as máquinas da tipografia para levar para Lisboa, onde posteriormente se enche de dívidas por causa dos operários que eram precisos para a sua editora, chamada Ibis, funcionar. Sendo quem era, consegue, numa carta, sintetizar tudo o que está errado na minha terra e qualquer pessoa sente que ele apanhou muito bem “aquele nada com o nada dentro”, ou seja, “o que é que as pessoas estão aqui a fazer, se, existe inferno, onde é que ele estará, senão aqui?”. Claro que ele quando escreve esta carta já está completamente embriagado. Esta análise é contraposta pelo Cruzeta de forma cómica e acertada, dizendo que o Pessoa deve a sua glória literária ao facto de ter vindo a Portalegre desgraçar-se.
Como cativar as gerações mais jovens para a leitura?
Começava logo pela razia aos programas horríveis, cheios de gramática e com termos novos, que são atentados contra a inteligência e contra a alegria de ler. Estares a viver a vida de outros – e que passa a ser a tua – só se pode dar com espírito crítico e também com uma certaalegria. A literatura tem de ser algo agradável e importante, como o bom cinema. As coisas estão interligadas. Quando se aprende a entender a complexidade das personagens de uma história é uma alegria, porque elas estão a mostrar-nos algo que não tínhamos visto antes. Tento que os meus alunos sintam alegria ao lerem um bom livro, mesmo quando o argumento nos deixa tristes. Às vezes é importante estar triste.
Porquê?
É uma felicidade estar triste (risos) … segundo Aristóteles, “a tragédia e a comédia escrevem-se com as mesmas letras do alfabeto” e, de facto, acredito nisso. E depois é ter amor por aquilo que nos acontece, mesmo quando se trata de uma desgraça, e saber dar a volta. Acho que esta é uma característica muito alentejana, que nem sempre se resolve bem e, por isso, é importante que o diga. Acho tremendo o suicídio. Tenho tentado o máximo possível mostrar que o suicídio não é solução para nada. Os meus livros têm sido lidos por psiquiatras e espero dar um contributo no sentido de que este tema seja debatido. Mas o problema é que às vezes as pessoas não conversam a tempo. É muito importante termos noção de duas coisas: o peso de um suicídio numa família dura até à quinta geração e a taxa de suicídio no Alentejo é oito vezes superior à do Norte do país.
Foi um dos criadores do programa Contra Informação, uma sátira à vida política portuguesa. Parece que os programas de humor dão mais informação do que os telejornais?
Procurei levar para o programa um pouco dos princípios que tinha aprendido no jornalismo: a liberdade e a responsabilidade. Aquilo só funcionou porque tinha graça, mas também porque tinha ligação com o que se passava na vida política. Nós imaginávamos o que os políticos estavam a conversar quando não estavam à frente das câmaras, tendo em conta o que tinham dito à frente das mesmas, captando-lhes os tiques e as personalidades de uma forma caricatural. Os bonecos eram bastante cómicos e o programa era para durar seis meses e durou 14 anos. Uma das minhas glórias literárias é o “penso eu de que”, dito pelo Bimbo da Costa, que não gostou do retrato. Houve uma vez que o Pinto da Costa tentou acabar com o programa dizendo que o Futebol Clube do Porto iria deixar de ter relações com a RTP no que respeita à transmissão de jogos. E o Joaquim Furtado, na altura diretor de programação da RTP, defensor da liberdade e um homem de Abril, diz: “então ele que avance”. Mas não avançou. O nosso programa tinha independência. Fizemos muitas brincadeiras… o Bóbi e o Tareco também nasceram quando o Pinto da Costa disse que só admitia ser gozado pela filha, pelo cão e pelo gato. O humor serve para aprofundar as coisas, não para as aligeirar.
E como tem sido a sua experiência como argumentista?
Tenho, por hábito, aceitar convites desafiadores, complexos, para ver se consigo conhecer-me melhor. Nada se faz sem um bom guião. Durante muitos anos, eu mesmo sofri e só consegui contornar isso tornando-me escritor, razoavelmente conhecido, para se perceber que por detrás de alguns filmes havia também uma cabeça que tinha penado, e muito, para criar aquelas personagens, aquelas situações. E outra coisa é que nada se faz bem sozinho. Muitas pessoas, os argumentistas são os primeiros, são aqueles que lançam os fundamentos e que mui- tas vezes acabam esquecidos. Tive ótimas experiências com vários realizadores, como com o Tiago Guedes, no filme “A Herdade” que fez um belíssimo trabalho.
É uma escrita diferente?
Eu defendo que um guião possa ser lido com o mesmo gosto com que se lê um romance. Não acredito naqueles guiões mais técnicos, no sentido de não terem a sua própria força literária. Portanto, o argumentista também é um escritor. Faço questão de passar o testemunho para as mãos do realizador, com confiança… cabe-lhe depois dar corpo à história. Quando fui ver “A Herdade”, pela primeira vez, com as personagens e as situações que tinha criado, fiquei surpreendido porque o Tiago Guedes tinha transformado, em alguns sentidos, aquilo noutra coisa. E tive a estranha sensação de estar a ver personagens que eu conhecia a fazerem coisas que não sabia que elas tinham feito. Portanto, houve ali umas cenas que para mim foram uma surpresa. A questão é que ele fê-lo muito bem e por isso o filme tem tantos matizes.
Quer dar um exemplo?
A cena do 25 de Abril é linda. O casal a voltar de uma grande festa de ricaços, com aquelas senhoras vestidas de jóias e peles e depois cruzar-se com os tanques que vão fazer o 25 de Abril, ao som da Grândola Vila Morena a tocar no rádio do carro… essa cena é muito bonita, não são precisas palavras. Às vezes escreve-se melhor sem palavras!
Escreveu recentemente uma letra para uma moda de cante alentejano?
Sim, fui convidado para escrever uma canção no âmbito do projeto cultural Futurama, fundado pelo John Romão, que convida escritores e músicos para renovarem o cante. Escrevi o “Cante da Nova Apanha”, tocado pela Celina da Piedade e pela Ana Santos, que vai estrear em Serpa no dia 28 de setembro. É sobre os novos trabalhadores que vêm do Bangladesh, da Índia e do Nepal, “para o Alentejo que já não faz pão mas que continua a pagar mal.” Há aqui uma série de quadras sobre a equivalência entre os explorados que vêm agora de longe e aquilo que os trabalhadores do Alentejo também sofreram quando iam à praça oferecer o corpo para trabalharem à jorna.
É um tema que o marca?
Sou muito sensível a este tipo de injustiças porque acho que não há o direito de explorar as pessoas como se fossem animais. Neste livro, “As Melhoras da Morte”, desenvolvo a teoria cómica de que o cante, inesperadamente, fala muito mais de passarinhos, de amores e de coisas assim leves e idílicas, como forma de aligeirar o que era pesado, e pouco de sentimentos de injustiça, da dureza do trabalho no campo, porque o regime da altura não o permitia. De qualquer modo, o Cruzeta diz que devia haver cante a retratar a injustiça e também que as pessoas do cante se transformaram em “cantólicos anónimos”. A ideia é cómica, mas de facto, tenho amigos que não conseguem calar-se quando estão mergulhados no espírito.