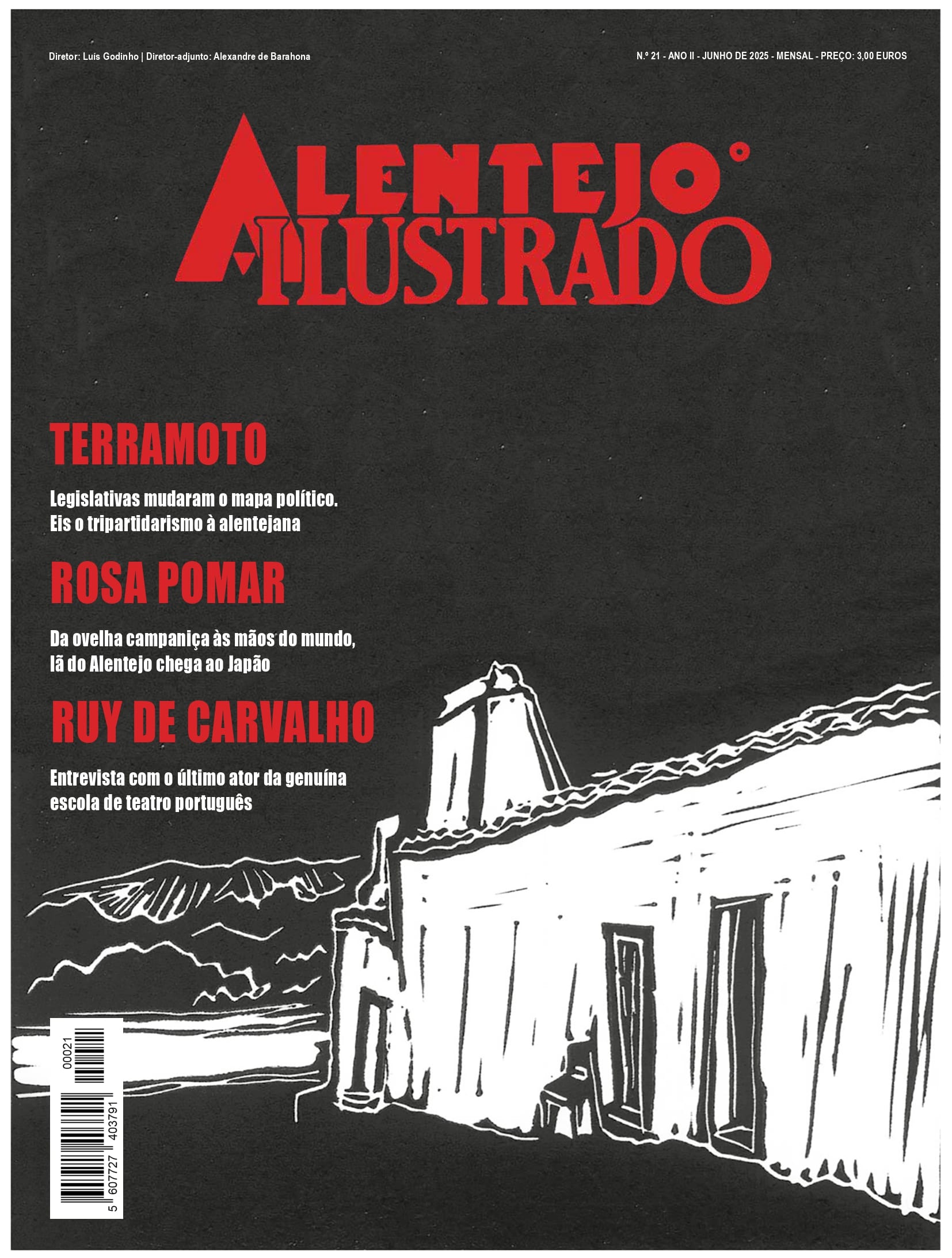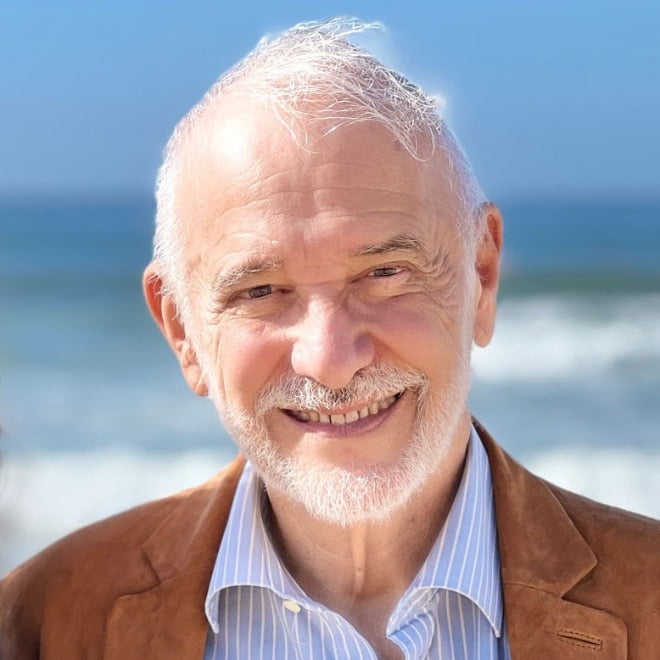Pertencemos à natureza ou a natureza pertence-nos? Esta pergunta é tão antiga quanto a modernidade ocidental. Até então, nas mais diferentes culturas, incluindo na europeia, a pergunta não fazia muito sentido, uma vez que era óbvio pertencermos à natureza. Havia muitas teorias sobre essa totalidade que somos com a natureza, mas era evidente que a natureza não nos pertencia, nós é que pertencíamos à natureza. Afinal, o mais elementar acto de sobrevivência mostra que dependemos da natureza para viver. E se não dependêssemos dela, poderíamos imaginar a nossa morte? Pertencer à natureza sempre significou respeito, reverência e medo. A natureza, tal como a nossa mãe, tanto cuida de nós como nos ralha se nos portamos mal.
A partir do final do século XV início do século XVI, tudo começou a mudar neste canto da Eurásia a que chamamos Europa. A antiga noção da pertença à natureza foi sendo questionada, até que o filósofo René Descartes estabeleceu que os seres humanos são radicalmente diferentes da natureza e superiores a ela devido às graças divinas que foram concedidas exclusivamente à humanidade.
Embora houvesse quem criticasse essa posição (o grande filósofo Bento Espinosa, filho de Miguel Álvares Espinosa, nascido na Vidigueira em 1587), a verdade é que ela se impôs e, com ela, a ideia de que a natureza nos pertencia e que podíamos dispor dela a nosso bel prazer e para nossa exclusiva utilidade. A expansão colonial foi já dominada por essa ideia; tudo o que pudesse ser apropriado era considerado natureza, incluindo os próprios povos nativos com que os colonizadores se encontraram. A apropriação foi por vezes violenta, por vezes pacífica, assente em duas ideias básicas: conquista e contrato de propriedade privada. Quer uma quer outro dava direito a dispor da natureza como aprouvesse ao conquistador ou ao comprador.
É uma longa história que sempre decorreu com contradições, não só entre proprietários e não proprie- tários, como entre filosofias que se opunham a esse direito ilimitado de dispor da natureza como se ela não tivesse direitos. No século XVIII, os poetas, por exemplo Goethe, defendiam que devíamos contemplar a natureza em vez de intervir violentamente nela. Utilizá-la apenas na medida das nossas necessidades (limitadas) e nunca em nome dos nossos lucros (potencialmente ilimitados). Uma vez que a ciência moderna que se ia consolidando era dominada pela ideia de que a natureza nos pertence e que podemos manipulá-la como quisermos, os poetas opunham à ideia de experimentação a ideia de experiência. Experienciar a natureza em vez de a experimentar.
Esta ideia, considerada romântica, era há muito seguida por grande parte da humanidade fora da Europa. Os próprios camponeses europeus tinham e continuam a ter (na medida em que ainda existem) respeito pela natureza como fonte da vida. Os meus pais eram ambos camponeses e eu recordo-me bem do seu cuidado em “não cansar” demasiado a terra. Era por isso que num ano se cultivavam umas courelas e no seguinte, outras, para que cada uma delas pudesse descansar, isto é, ficar de pousio. Tal como nós, a terra precisa de descansar. Mas os camponeses foram a parte perdedora neste domínio (como em outros). Para quem pensava que a natureza nos pertence foi fácil resolver o problema do cansaço da terra. Inventaram-se os adubos químicos, os herbicidas, os pesticidas, para que a terra continuasse a produzir sem ter de descansar. Foi a agricultura industrial e, com ela, um conceito de produtividade centrado num só ciclo de produção e na monocultura, pouco importando as consequências disso a longo prazo.
As consequências da concepção dominante
Com o tempo, foi-se tornando claro que a ideia de que a natureza nos pertence e de que podemos fazer dela o que bem entendermos iria causar problemas. O primeiro problema foram as alterações climáticas. Pela primeira vez, o ser humano interferia activamente no clima, e isso foi considerado uma nova era, a era do Antropoceno. Hoje vivemos em período de colapso ecológico, de desertificação e de refugiados ambientais, a ponto de as Nações Unidas preverem que em 2050 metade da população mundial terá dificuldade em ter acesso a água potável. O segundo problema foi a contaminação química dos alimentos e os problemas de saúde de quem trabalha na agricultura industrial com intenso uso de produtos químicos.
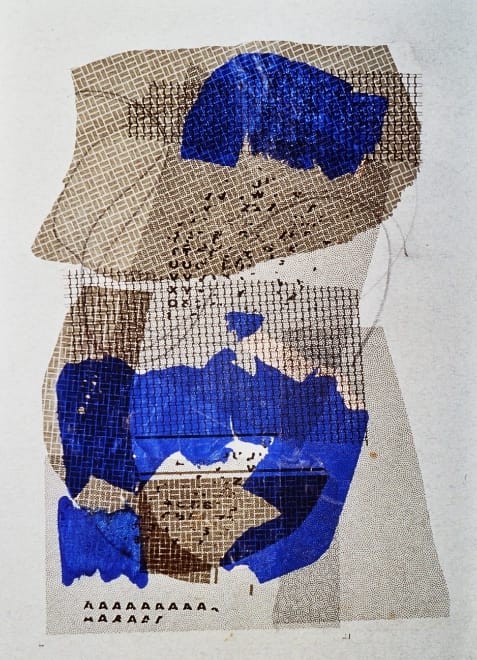
O Alentejo entre duas concepções da relação ser humano/natureza
Se havia região do país onde a ideia de que pertencemos à natureza era absolutamente dominante, essa região era o Alentejo. No Alentejo, a natureza impunha-se com uma força que não víamos noutra região do país. Era a imensidão da planície, a nobreza do arvoredo nativo, a diferença entre a escala da terra e a dos humanos que a habitavam concentrados em montes ou lugarejos distantes e esparsos. Era o tempo lento da brisa e do calor estival. O cante alentejano é uma arte impregnada do princípio de que pertencemos à natureza. É o espírito da natureza a cantar no seu ritmo próprio.
Nos últimos trinta ou vinte anos, a ideia de que a natureza nos pertence começou a dominar no Alentejo: o Alentejo da agricultura intensiva, monocultural, química, da produtividade uniciclo, do divórcio entre as necessidades dos agora “povos nativos”, cada vez mais escassos, e o mundo dos consumidores ricos do mundo ávido de tudo excepto de felicidade, do mundo capaz de tudo excepto de viver em harmonia com a natureza. Este domínio tem vindo a intensificar-se com uma consequência há muito estudada: transforma o Alentejo da concepção de que pertencemos à natureza em objecto turístico, em natureza aprazível para contemplar nos intervalos deixados pela natureza industrialmente intervencionada. O Alentejo é assim naturalizado para ser posto ao serviço do turismo industrial, incluindo campos de golfe.
Hoje não é necessário muito estudo para nos darmos conta de que há dois Alentejos, o Alentejo daqueles que pertencem à natureza e o Alentejo daqueles a quem a natureza lhes pertence. Entre eles, não parece haver diálogo nem acordo de convivência. Coexistem, medem forças, procurando aliados externos para fortalecer as suas posições. O aliado mais forte daqueles a quem pertence a natureza é a política agrícola da União Europeia e as suas concepções de desenvolvimento. Uma análise mesmo distanciada e pouco rigorosa parece indicar que o Alentejo daqueles a quem a natureza pertence está a dominar. Esse domínio está já marcado na paisagem e nas formas de convivência.
Um terceiro Alentejo?
A convivência entre os dois Alentejos não é possível em pé de igualdade. Um dos Alentejos deve prevalecer e acomodar o Alentejo contrário, desde que não ponha em causa a sua supremacia. À luz da crise climática e dos novos conceitos de bem-estar, não me restam dúvidas de que o Alentejo que florescerá e não se tornará a longo prazo num imenso deserto é o Alentejo que pertence à natureza. Ao contrário do que pensa o paradigma oposto, este Alentejo é dinâmico, sabe adaptar-se e acomodar outras concepções de Alentejo – com uma só condição: que lhe não roubem a alma.
É minha convicção de que é possível um terceiro Alentejo sob a primazia do Alentejo que pertence à natureza. Este terceiro Alentejo assenta numa ideia simples: o que é bom para o Alentejo que pertence à natureza é bom para o país, para o mundo e para vida no planeta. Para isso, é preciso criatividade e valorização dos conhecimentos próprios, da cultura que se alimenta do gozo simples das raízes que nos dão sustento e dignidade. O Alentejo só terá futuro se for o seu futuro pensado pelos alentejanos e não por tecnocratas que facilmente trocam o Alentejo por qualquer outra região da Europa onde aplicam as mesmas receitas e provocam os mesmos desastres, com a mesma cumplicidade de sempre das elites locais que ganham com isso.
Para uma ecologia de saberes alentejanos
Os alentejanos têm de conhecer e valorizar o seu modo de estar no mundo se o quiserem transformar segundo as suas aspirações. Proponho duas ideias para iniciar o debate. A ciência é um conhecimento válido, mas não é o único conhecimento válido. As filosofias alentejanas também são válidas.
Os técnicos treinados na ciência são preciosos; os tecnocratas, que pensam ser a ciência o único conhecimento válido, são perniciosos. É possível um diálogo entre conhecimentos pela simples razão de que todos os sistemas de conhecimento são incompletos. Nenhum sistema é capaz de dar respostas a todas as nossas inquietações e perplexidades. As filosofias alentejanas são os saberes, muitas vezes orais, que se foram sedimentando na convivência, nos tempos livres, nas lutas contra a injustiça e a repressão, na alimentação, no modo de ver o mundo, na concepção de tempo, nas concepções de arte e da relação entre arte e artesanato. Essas filosofias andam dispersas nas conversas e nos silêncios, à espera do seu lugar na discussão sobre o futuro do Alentejo. O antigo é potencialmente novo porque todo o conhecimento tem a sua dinâmica própria. Só parece estático quando é visto a partir da dinâmica própria dos conhecimentos rivais.
Substituir os conceitos de desenvolvimento e de sustentabilidade pelos conceitos de “viver bem” ou “viver saborosamente”.
Os conceitos de desenvolvimento e de sustentabilidade devem desaparecer do vocabulário e ser substituídos pelos conceitos de “viver bem” ou “viver saborosamente”. O conceito de desenvolvimento é o conceito central da concepção segundo a qual a natureza nos pertence.
O conceito de sustentabilidade foi inventado para manter a prevalência daquele outro conceito segundo o qual a natureza nos pertence, dando-lhe um verniz de moderação assente na ideia, também gravada na paisagem e na vida das pessoas, de que o que se destrói vale menos do que aquilo que se constrói sobre as suas ruínas.
Sustentável é o mais recente adjectivo para legitimar mais do mesmo, ou seja, desenvolvimento. Antes dele, usaram-se outros adjectivos sempre com o mesmo fim, tais como desenvolvimento humano, desenvolvimento integral. O adjectivo sempre proibido nos discursos oficiais é o adjectivo com que o desenvolvimento foi baptizado para sempre na modernidade ocidental: o adjectivo “infinito” e, por arrastamento, progresso e bondade. A proibição do adjectivo implica a proibição das perguntas sobre tudo o que está relacionado com ele.